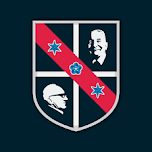JUÍZOS SINTÉTICOS
A PRIORI SÃO POSSÍVEIS?
Este post tem
por principal objetivo explanar sobre alguns conceitos e objeções elucidados
por Immanuel Kant no Prefácio e na Introdução de sua obra – Crítica da
Razão Pura – a fim de descortinar o procedimento por ele utilizado ao
estabelecer as condições de possibilidade para que um saber se torne,
propriamente, científico. No Prefácio, Kant utiliza-se do conceito de construção[1] para dizer se a lógica, a
matemática, a física e a metafísica entraram para um caminho seguro dentro da
ciência. Já na Introdução, Kant problematiza a questão de outra forma tendo por
objetivo tornar claro que tal condição de possibilidade (para algo tornar-se
científico) tem que satisfazer a noção de juízo sintético a priori;
ou seja – na Introdução – Kant visa a questionar não simplesmente como é
possível um conhecimento científico, mas como são possíveis juízos
sintéticos a priori aplicados aos saberes que se pretendem
científicos. Ademais, visa-se neste trabalho a confrontar as ideias de Kant às
ideias de David Hume – estabelecidas em sua obra “Investigações sobre o
entendimento humano” – para explicar, por meio de termos kantianos, em
que medida os juízos analíticos se diferenciam dos juízos
sintéticos.
Na Introdução
da Crítica, pode-se afirmar que há uma diferenciação entre Início (tempo
lógico) e Origem (tempo cronológico) no que concerne à
distinção entre conhecimento puro e empírico. Kant afirma que do fato de o
conhecimento ter início na experiência não se segue que ele se
regule pela (e tenha origem na) experiência.
“Não há
dúvida de que todo o nosso conhecimento começa com a experiência; Ainda, porém,
que todo o nosso conhecimento comece com a experiência, nem por isso surge
apenas da experiência.” [2]
Com efeito, tal
como quer Hume, nosso conhecimento se desperta do estímulo exterior que
recebemos por meio dos nossos sentidos. Em nossa razão pura, nenhum
conhecimento está de modo anterior à experiência, pois (se ao contrário fosse)
equivaleria dizer que todo o nosso conhecimento é inato. Decerto, nenhum
conhecimento antecede em nós à experiência e todos eles nela se iniciam.
No entanto, do fato de o nosso conhecimento ter início na
experiência não se segue que ele tenha origem da experiência,
pois o nosso conhecimento empírico pode ser um composto de impressões que a
nossa própria faculdade de conhecimento produz. Feito tal distinção, Kant dá
procedência à sua investigação por meio de uma abertura à seguinte
questão: existiria, portanto, um conhecimento que fosse independente da
experiência? Tal questão o permite fazer uma distinção entre
conhecimento a priori e conhecimento a
posteriori. Decerto, o conhecimento a posteriori é
aquele que tem suas fontes na experiência. De modo contrário, o
conhecimento a priori é aquele que não apenas é independente
desta ou daquela, mas de toda e qualquer experiência. Isto se dá desta forma
pelo fato de que todo conhecimento a priori não é derivado
diretamente da experiência, mas de uma “regra universal” que, no entanto, é
adquirida via experiência. Por exemplo, ao retirarmos o suporte que sustenta um
corpo material este (o corpo) certamente cairá. Nós – a priori –
inferimos tal proposição, já que não é necessário esperar pela sua queda
(empiricamente) para podermos afirmar que o corpo cairá. No entanto, tal
afirmação não pode ser totalmente a priori, pois se segue de
uma “regra universal” (que foi, em algum momento, apreendida por meio da experiência),
qual seja, todos os corpos são pesados. Ademais, Kant afirma que
dentre os conhecimentos a priori denominam-se puros somente
aqueles em que não há nada de empírico misturado.
“Assim, a
proposição ‘toda mudança tem uma causa’, por exemplo, é uma proposição a
priori, mas não é pura, porque ‘mudança’ é um conceito que só pode ser
derivado da experiência.” [3].
Decerto, a
experiência nos mostra como algo é constituído, porém, não por meio de relações
necessárias[4], já que a experiência é – por sua própria
natureza constitutiva – contingente[5]. A experiência não dá jamais
universalidade verdadeira ou estrita aos seus juízos, pois os processos que
ocorrem nela (tal como Hume defende) são processos indutivos[6] levando à universalidade suposta e
comparativa que, partindo de sentenças singulares elevam-nas ao máximo fazendo
delas sentenças generalizadoras: Kant chama isto, tal como descrito, de universalidade
empírica. Por outro lado, um juízo pensado em sua universalidade
estrita não admite nenhuma exceção possível e, portanto, não pode ser
deduzido da experiência (que é contingente). Tal universalidade (estrita)
está diretamente relacionada ao conhecimento a priori. De modo
mesmo, a necessidade – inexistente à experiência contingente – coexiste no
conhecimento a priori; Ademais, é absolutamente a priori aquele
juízo que não possui relação com outras proposições, mas seja – por si só –
determinado. Ou seja, é um juízo que não se deduz de outras proposições, mas
gira em torno de sua própria necessidade.
“A necessidade e a
universalidade estrita são, assim, indícios seguros de um conhecimento a
priori, e também pertencem inseparavelmente uma à outra.” [7]
Temos, então, uma
definição um pouco mais detalhada. O conhecimento a priori não
é simplesmente aquele conhecimento independente de toda e qualquer experiência
ou que não possua nada de empírico misturado (a priori puro), mas é um
conhecimento que possui, também, como características inseparáveis, a
necessidade e a universalidade. O conhecimento a priori é,
portanto, estritamente universal e necessário.
David Hume, na
seção 4 de sua Investigações, divide o conhecimento
entre puro e empírico. Segundo ele, para
conceber os objetos puros basta simplesmente que estes estejam livres de
contradição. Neste ponto – sob a perspectiva kantiana – o erro de Hume consiste
no ato de assumir o conhecimento puro como isolado da
experiência em geral, já que Kant assume que todo o nosso conhecimento (seja
ele puro ou não) começa com a experiência,
apesar de não ter origem na experiência. Ademais, Hume afirma
que é a própria experiência guia de todo nosso conhecimento; mas, de onde a
própria experiência extrairia sua própria certeza (já que é estritamente
contingente)? Como poderiam tais extrações empíricas tornar-se princípios
universalmente válidos? É justamente neste ponto que consiste o método
modificado do modo de pensar proposto por Kant, qual seja: “que nós só podemos
conhecer a priori das coisas aquilo que nós mesmos nela
colocamos” [8]. Kant faz uma crítica direta a toda
tradição empirista ao afirmar que é o nosso conhecimento guia da experiência e
não a experiência que deve guiar nosso conhecimento acerca das coisas no mundo;
Ou seja, Kant defende não o sujeito passivo e receptor de estímulos – tal como
Hume e boa parte da tradição empirista concebe – mas o sujeito ativo na procura
de um conhecimento que a razão pura constrói a priori. Ainda sob a
mesma perspectiva, Kant determina que não somente princípios podem ser a
priori, mas também conceitos. Deste modo, o conceito de espaço e
de substância são, necessariamente, a priori: por
um lado, se apagarmos tudo aquilo de empírico que há em um corpo (cor, textura
etc.) permanecerá ainda o espaço que ele ocupava, pois esta é
a própria condição de possibilidade do objeto. De modo mesmo, se apagarmos
todas as propriedades corpóreas ou incorpóreas dadas a este corpo pela
experiência não poderíamos, no entanto, retirar aquilo que nos permite pensá-lo
como substância. Logo, tanto o espaço quanto
a substância estão a priori em nossa razão
pura.
“[…] Certos
conhecimentos abandonam até mesmo o campo de todas as experiências possíveis e,
por meio de conceitos aos quais não pode ser dado nenhum objeto correspondente
na experiência, aparentam estender o alcance de nossos juízos para além de todos
os limites da mesma.” [9]
Trata-se aqui da
metafísica clássica, tal qual toda tradição filosófica se embasou. De fato, a
metafísica dogmática[10] não pode ser defendida, pois não
possui objeto correspondente na experiência e, nesta direção, Kant visa a
denunciar o desvio da razão promovido pela metafísica na sua impossibilidade de
ser uma verdadeira ciência. Afirma que foi David Hume quem o despertou do sono
dogmático, pois (por meio de sua Investigações) expôs a metafísica
como o pseudos saber, tomando assim medidas céticas para rejeitá-la como
conhecimento especulativo. Apesar de toda esta empreitada, nós a consideramos
importante – até mesmo mais que tudo aquilo cognoscível no campo dos fenômenos
– pois diz respeito às finalidades morais (propósito último):
“Deus, liberdade e
imortalidade constituem essas inevitáveis tarefas da própria razão pura” [11].
Ademais, a
metafísica incorre num erro praticamente natural, pois uma vez tendo abandonado
o solo da experiência dificilmente se reconstituiria novamente. Seu conteúdo
fica, por assim dizer, totalmente incerto; não se sabe a origem nem sua
fundamentação. O que se sabe é que o entendimento acessa seus conhecimentos a
priori. Todos estes fatores anteriormente citados e, o principal deles,
“ter-se desvinculada do solo da experiência” fizeram com que Hume abandonasse a
metafísica como conhecimento do suprassensível. Kant, por outro lado, examina-a
já que o nosso entendimento anseia por conhecê-la. Uma boa explicação para que
a metafísica não incorresse em total esquecimento é que, por estar além do
âmbito empírico, tem-se a segurança de que não pode ser contrariada pela
experiência. Nossa razão tende a ampliar cada vez mais nossos
conhecimentos acerca dela e estes só podem ser suspensos caso encontremos uma
clara contradição.[12] A matemática, por exemplo, nos
mostra o quanto podemosampliar nosso conhecimento acerca dela a
priori, pois a ela são cabíveis apenas os objetos e conhecimentos
apresentados à intuição. O impasse, no entanto, é que mesmo a intuição pode ser
dada a priori, ou seja, não basta conhecer os objetos limitados da
intuição. O impulso para a ampliação do nosso conhecimento não
reconhece nenhum limite. Neste sentido, Kant afirma que Platão abandonou o
mundo sensível, justamente pelo fato de que este impunha muitos limites à
razão. Sabe-se, desde a Antiguidade, que Platão consolida sua teoria das ideias
independentemente do mundo sensível, pois mesmo que o conhecimento sirva-se de
dados empíricos ele é necessariamente inteligível (nous). No
entanto, ao abandonar o solo da experiência Platão não encontra nenhuma
resistência que o permitisse aplicar suas forças e movimentar o entendimento.
Parece familiar à razão humana fundamentar suas ideias e só tardiamente
questionar ou examinar seus pressupostos. Isto se dá pelo simples fato de que
somos convencidos (por muitas vezes) pela falsa aparência que esta articulação
de ideias nos transmite; mesmo esta articulação é usada para que sejamos
privados de fazer tal exame e, assim, chegar a conclusões mais críticas e mais
sólidas. Esta articulação de ideias se dá por meio de uma decomposição de
conceitos que temos dos objetos já conhecidos anteriormente. Desta decomposição se
seguem diversos conhecimentos (antigos e por nós sabidos) que são apreciados
como se fossem novos discernimentos. Doutro modo, se a priori formos
capazes de introduzir sob essa ficção (falsa aparência) afirmações de um tipo
inteiramente diverso, nos depararemos com um acréscimo de
dados que são estranhos ao conceito em questão.
Kant estabelece
que existam dois tipos de conhecimento: os que acrescem e os
que decompõem. Para tanto, ele introduz em sua Crítica a
distinção entre juízo analítico e juízo sintético.
Tal distinção é feita para explicar os dois modos pelos quais é pensada a
relação sujeito-predicado: Os juízos analíticos são aqueles em
que a conexão do predicado com o sujeito é pensada por meio da identidade
(A=A); são, também, denominados juízos de explicação/ elucidação, pois não
acrescentam nada de novo ao conceito do sujeito, mas apenas resultam em
conceitos (já pensados anteriormente) por meio de uma decomposição.
Por exemplo, ao dizermos que “todos os corpos são extensos” estamos proferindo
um juízo analítico, já que não se tem a necessidade de sair do
conceito que ligamos à palavra corpo para verificar a conexão com seu predicado
(extensão); basta, portanto, decompor o conceito de corpo e já
encontraremos, como correspondente, o conceito de extensão. Por outro lado,
os juízos sintéticos são aqueles que introduzem um
conhecimento completamente novo, que não estava implícito na definição dos seus
termos: ao contrário dos juízos analíticos, os juízos
sintéticos não possuem relações de identidade e são denominados juízos
de ampliação, já que acrescentam um predicado ao sujeito que não
era nele pensado e nem foi extraído por decomposição. Por exemplo,
ao dizermos que “todos os corpos são pesados” estamos proferindo um juízo
sintético, já que o predicado não está contido implicitamente no conceito
que penso de um corpo em geral (tal como no juízo analítico). Há,
portanto, um acréscimo do predicado ao sujeito em questão. Em
termos aristotélicos, os juízos analíticos dizem ‘algo uno do
sujeito’ (por meio de identidades), enquanto que os juízos sintéticosdizem
‘algo outro do sujeito’ (acrescentando-lhes). Os juízos da experiência, por sua
vez não podem seranalíticos e são todos eles sintéticos.
Isso se dá pelo fato de que os juízos analíticos não precisam
do testemunho da experiência: eles são regulados pelo princípio de identidade
não havendo, assim, a necessidade de sairmos do nosso próprio conceito para
formular um juízo. Ao dizermos da extensão do corpo (todo corpo é extenso) o
fazemos a priori, pois não é um juízo da experiência. Antes de
irmos à experiência já possuímos em nossa razão pura as condições necessárias
para inferimos tal juízo dentro do conceito; deste conceito, ocorre uma
extração do predicado (segundo o princípio de não contradição) de modo a
tornarmo-nos conscientes da necessidade de tal juízo. A isto, a experiência
jamais poderia guiar-nos. Portanto, os juízos analíticos independem
da experiência; se independem da experiência podemos afirmar que são todos eles a
priori; pelo fato de serem a priori (e regulados por
princípios lógicos, mais especificamente, de identidade) não podem ser
conhecidos/ não geram conhecimento, pois a própria lógica não é uma ciência,
mas um mero sistema organizador do pensamento.
No entanto, ao
dizermos “todo corpo é pesado” se não incluirmos o predicado do peso no
conceito de um corpo em geral[13], tal conceito ainda caracterizaria um
objeto da experiência a qual é possível fazer acréscimos de
outros dados empíricos (da mesma experiência). É possível que, de maneira analítica (a
priori/ por decomposição), nós conheçamos o conceito de corpo
tendo em vista suas propriedades que são pensadas nesse conceito (textura,
formato etc.). O conceito de peso, por sua vez, pode ser encontrado caso
nós façamos remissão à experiência (a mesma experiência de onde havíamos
extraído o conceito de corpo) de modo a conectar – por ampliação do
nosso conhecimento – o conceito de peso ao conceito de corpo seguido de suas
propriedades supracitadas (textura, formato etc.). Tal ampliação (acréscimo)
se dá por um processo de síntese entre sujeito e predicado.
Esta possibilidade de síntese (entre o sujeito e o predicado)
só é possível na experiência, pois apesar de um não estar contido no outro,
ambos os conceitos (relacionados ao predicado e ao sujeito, respectivamente,
peso e corpo), pertencem um ao outro ainda que de maneira contingente (a
posteriori, tal como quer Hume). O fato é que tal relação se dá devido às
partes pertencerem a um único todo: o da mesma experiência,
que é propriamente a ligação sintética das intuições. Por
isso, tais juízos de experiência não são analíticos, pois
equivaleria dizer que são a priori [14]. Os juízos de experiência são
denominados, portanto, sintéticos (neste caso, sintéticos
a posteriori).
Há, então, um
grande impasse: existem tanto juízos analíticos, que são
tautológicos e não podem ser conhecidos; quanto juízos sintéticos (a
posteriori), que são cognoscíveis – mas não são universais – pois se
derivam da experiência contingente. Por qual juízo nosso
conhecimento deve ser guiado se nos analíticoshá apenas decomposição daqueles
conceitos que nós já conhecemos; e nos sintéticos (a posteriori),
embora acresça novos conceitos ao sujeito por meio do
predicado, fornece-nos apenas um conhecimento totalmente empírico? É por meio
deste impasse que Kant introduz a noção de juízos sintéticos a priori:
“Nos juízos
sintéticos a priori, contudo, falta por completo esse recurso auxiliar. Se devo
sair do conceito ‘A’ para conhecer um conceito ‘B’ a ele ligado, o que é isso
em que me apoio e que torna possível a síntese, se não tenho aqui a vantagem de
poder procurá-lo no campo da experiência?” [15]
Os juízos
sintéticos a priori são juízos ampliativos, universais e necessários.
Ampliativos, pois dizem algo outro do sujeito, ou seja, acrescentam um
predicado ao conceito do sujeito que não era nele pensado. Universal, pois não
admite nenhuma exceção possível; e necessário, pois o modo de relacionar o
sujeito ao predicado é determinado e não pode ser diferente. Tomemos, por
exemplo, a proposição “tudo o que acontece tem a sua causa”. Em princípio,
poderíamos dizer que este juízo é analítico pelo simples fato
de que “aquilo que acontece” pressupõe uma sucessão temporal. No entanto, o
conceito de causa é algo que está para além desse conceito apontando, assim,
para algo distinto daquilo que acontece (no momento presente). Esta proposição
só pode ser um juízo sintético, pois seu predicado (tem a sua
causa) não está contido implicitamente no conceito de acontecimento (que é
sujeito).
“O que é aqui o desconhecido
x9, em que o entendimento se apoia quando acredita encontrar fora do
conceito ‘A’ um predicado ‘B’ – dele distinto – mas ainda assim a ele
conectado?” [16]
Retomando a
questão “tudo o que acontece tem a sua causa” podemos afirmar que não é uma
proposição empírica, já que proposições empíricas estão limitadas estritamente
ao tempo presente de tal modo que não podemos fazer generalizações. Não podemos
dizer “todos os acontecimentos”, pois não somos capazes de intuir os fenômenos
que ocorreram no passado ou que ocorrerão no futuro. Ademais, afirmar que “tudo
o que acontece tem a sua causa” equivale a dizer que todos os acontecimentos
sempre tiveram e sempre terão uma causa (seja no passado, no presente ou
futuro). Este juízo, portanto, não pode jamais ser um juízo derivado da
experiência (sintético a posteriori), mas possui uma necessidade e
uma universalidadeque nos leva a afirmar que tal juízo é sintético
a priori. Deste modo, Kant visa a estabelecer que o nosso conhecimento
especulativo a priori se funda exatamente nos princípios sintéticos (de ampliação).
Os juízos analíticos, por sua vez, são necessários para se atingir
grau de clareza entres os conceitos para que, assim, aconteça uma síntese segura
no que concerne à aquisição de todo o nosso conhecimento.
No Prefácio, Kant
utiliza-se do conceito de construção para dizer se a lógica, a
matemática, a física e a metafísica entraram para um caminho seguro dentro da
ciência. Já na Introdução, Kant problematiza a questão de outra forma tendo por
objetivo tornar claro que tal condição de possibilidade (para algo tornar-se
científico) tem que satisfazer a noção de juízo sintético a priori;
A questão passa a ser feita da seguinte maneira: Como são possíveis os juízos
sintéticos a priori aplicáveis aos saberes da matemática, da física e
da metafísica? Kant afirma que a matemática possui, tão somente, juízos
sintéticos (de ampliação). Proposições que se pretendam
matemáticas são sempre juízos a priori e não empíricos, pois
tais proposições carregam consigo uma necessidade que não pode ser extraída da experiência
(pois esta é contingente). Caso não se aceite tal definição, Kant propõe que
entendamos a matemática como pura[17].
“A principio se
poderia pensar, de fato, que a proposição “7 + 5 = 12” é uma proposição
meramente analítica que se segue do conceito de uma soma de sete e cinco
segundo o princípio de (não) contradição.” [18]
Kant tem por
objetivo, neste ponto, refutar a teoria humeana acerca dos objetos puros[19] da matemática pois, na seção 4 de
sua Investigações, Hume divide o conhecimento entre puro e empírico (relação
de ideias[20] e questões de fato[21]). Como já foi dito neste trabalho, Hume
defende que para conceber os objetos puros da matemática basta
simplesmente que em nossa razão pura eles estejam livres de contradição. Kant,
em resposta a isto, afirma que o conceito de 12 não é de modo algum pensado quando
pensamos na soma entre 7 e 5. Até mesmo decompondo o conceito
desta soma (7 + 12) não obteremos nunca o conceito de 12. Kant determina que
seja necessário ir além desses conceitos (7 e 5) e recorrer ao auxílio de uma
intuição[22] correspondente a um deles. Por
exemplo, se tomarmos os nossos 5 dedos como dados da intuição acrescentaríamos aos
poucos ao conceito de 7. O número 12 surge, justamente, deste acréscimo do
número 5 (intuído) às unidades de 7. Nossa razão já havia pensado no conceito
da soma (7 + 5), mas não relacionava (de imediato) que tal soma resultasse no
número 12, pois é necessário que tal processo seja apresentado à intuição
correspondente. Portanto, esta proposição aritmética é, sobretudo, não a
consequência da decomposição (analítica) desses
conceitos, mas é uma proposição sintética (de ampliação).
De modo mesmo, a
geometria que possui todos os seus conceitos sinteticamente. “Que
a linha reta seja a mais curta entre dois pontos é uma proposição sintética” [23]. O conceito de reto é
um conceito qualitativo e não quantitativo; acrescentamos-lhes o conceito
de mais curto e este não pode ser decomposto (analiticamente)
do conceito de linha reta. Funda-se, então, uma síntese que
só é possível por meio do auxílio fornecido pela intuição. Ademais, os
princípios estabelecidos pelos geômetras são aparentemente analíticos,
ou seja, de decomposição e se baseiam no princípio de
identidade e de (não) contradição (tal como Hume defendia). “Por
exemplo: ‘A = A’, ‘o todo é igual a si mesmo’, ou ‘(A + B) > A’, i.e, ‘o todo
é maior que sua parte’” [24]. Kant afirma que proposições deste tipo
são válidas como conceitos e permitidas na matemática pelo simples fato de
também serem apresentadas à intuição. Com efeito, o que há nessas proposições é
um acréscimo – pelo pensamento – de um predicado a um dado conceito e isto já
justifica sua necessidade. Ademais, o que estas proposições querem dizer em si
mesma (analiticamente) é diferente daquilo que elas querem
dizer como método da geometria (sinteticamente). De fato, não
devemos pensar como deve ser geometria, mas como se dá o papel aí da geometria;
isso nos mostra claramente que o predicado se incorpora aos conceitos, mas não
como pensado nele mesmo, e sim, por meio de uma intuição que possui estrita
relação com o conceito em questão.
A física, por sua
vez, possui (em si mesma) juízos sintéticos a priori como
princípios. Estes princípios, tal como o de ação e reação[25], por exemplo, são juízos de ordem necessária (a
priori) e portanto são sintéticas (que acrescem).
Tal proposição não pode ser pensada analiticamente, mas sinteticamente,
pois lhes acrescentamos a priori um conceito que está para
além daquilo que pensávamos dele.
Na metafísica, uma
ciência pouco ensaiada – mas que possui grande influência na vida moral – tem
suas proposições fundamentadas em juízos sintéticos a priori, pois
não se relaciona apenas aos juízos de decomposição (analíticos). A todo
custo, visamos – a priori – a ampliar (sinteticamente)
nosso conhecimento acerca da metafísica (descobrindo as condições de
possibilidade do mesmo). Para isso, empregamos princípios que acrescentam,
ao conceito dado, algo outro (que nele não estivesse contido), por meio
de juízos sintéticos a priori, já que a experiência não pode
acompanhar-nos nesta empreitada. Por assim dizer, fica definido os juízos que
regulam a metafísica.
“No entanto,
também esse tipo de conhecimento, em certo sentido, tem de ser visto como dado
e a metafísica é real, se não como ciência, ao menos como disposição natural
(metaphysica naturalis)” [26]
A nossa razão
tende, naturalmente, a buscar os objetos da metafísica. Kant chega a afirmar
que sempre houve e sempre a haverá uma metafísica, pois a razão humana vê-se
impulsionada pela própria necessidade especulativa. A metafísica por diversas
vezes fracassou, pois tentava assumir o papel de uma ciência não fazendo,
assim, a (auto) crítica necessária para, só depois, afirmar-se
como algo científico. O ceticismo Humeano segue-se do mesmo erro, pois somente
a crítica nos conduz necessariamente à ciência; por outro lado
se agirmos dogmaticamente, sem crítica, seremos conduzidos a
afirmações infundadas e até mesmo quiméricas. Em suma, a metafísica dogmática
(que não fez a crítica), não pode se firmar como aquela ciência que
opera analiticamente (por decomposição; no âmbito lógico), mas este é apenas um
dos passos a ser dado para que – na busca da ampliação do conhecimento sintético
a priori – possamos encontrar a verdadeira metafísica (crítica).
Kant afirma que somente por meio desse processo crítico a
metafísica poderá ser, finalmente, desenvolvida de maneira próspera e
frutífera.
NOTAS
[1] “O conceito
de construção combina o a priori e o concreto, e o faz
mediante a apresentação de seus conceitos em intuição”. (CAYGILL, Howard.
– Dicionário de Kant – pág. 112) Em outras palavras,
significa: “apresentar a priori uma intuição correspondente ao
conceito”. MACHADO, Roberto – Deleuze: A arte e a filosofia –
Ed. ZAHAR, pág. 121.
[2] KANT,
Immanuel. Crítica da razão pura. Tradução de Fernando Costa
Mattos; Rio de Janeiro: Ed.: Vozes, 2012, Introdução (B1).
[6] Inferência
ampliativa que partindo de proposições singulares é capaz de fazer
generalizações. Por exemplo, ‘Vejo que todos os cisnes são brancos, logo todos
os cisnes são brancos’. A primeira proposição ‘Vejo que todos os cisnes são
brancos’ é composta por um conjunto de observações singulares. A segunda
proposição ‘logo todos os cisnes são brancos’ é, por sua vez, uma conclusão
generalizada que partiu da premissa mencionada’.
[10] Assume sem
exame prévio a capacidade ou incapacidade da razão para acessar tal
conhecimento (metafísico). A Crítica se opõe não ao
procedimento dogmático da razão (método dedutivo), mas ao próprio dogmatismo,
ou seja, a oposição está diretamente relacionada ao pretenso trabalho de
progredir apenas com um conhecimento puro a partir de
conceitos, sem uma investigação do modo e do direito pelos quais teria chegado
a ele. Logo, o que se critica de fato é que a metafísica não pode ser tomada
como um conhecimento seguro sem antes fazer uma “autocrítica”: examinar
quais são seus limites e quais são suas capacidades. A crítica a
ser feita é, sobretudo, a organização provisória necessária para a promoção de
uma metafísica fundamental enquanto ciência. – Ibidem, Prefácio à 2ª Ed. (B
XXXV)
[12] Contradição
esta que pode ser evitada caso nossas ficções sejam feitas cautelosamente não
as tornando, por isto, menos fictícias.
[13] Entendamos
por “corpo em geral” não apenas os corpos materiais, mas os objetos virtuais da
geometria (figura).
[17] Dentre os
conhecimentos a priori denominam-se puros aqueles em que não
há nada de empírico misturado. Ibidem, (B3).
[20] Constituído
de objetos puros, pois dizem respeito às matemáticas [geometria, álgebra e
aritmética]; estes objetos são regidos pelo princípio de identidade, ou seja,
7+5= 12, pois 12 contém 7+5. Os objetos puros da matemática independem da experiência,
pois são concebidos intuitivamente. Segundo Hume, para conceber estes objetos
basta que, em nosso pensamento, eles estejam livres de contradição
[21] Os objetos
de segunda ordem estão atrelados a tudo aquilo que compreende a experiência.
Ademais, todos os raciocínios relacionados a estes objetos empíricos parecem
ter fundamento na relação de causa e efeito. Esta relação fornece meios
cruciais para que nossa imaginação seja capaz de representar[21] algo que está
para além das evidências mnemônicas e sensíveis. Hume afirma que a relação de
causa e efeito em nada pode ser a priori, pois provém inteiramente
da experiência.
[25] “Toda força
de ação gera uma força de reação contrária e de mesma intensidade” (Encontra-se
em Princípios matemáticos da filosofia natural, publicada em 5 de
julho de 1687: Terceira Lei de Newton.)
REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
KANT,
Immanuel. Crítica da razão pura. Tradução de Fernando Costa
Mattos; Rio de Janeiro: Ed.: Vozes, 2012.
HUME, David. Investigações
sobre o entendimento humano e sobre os princípios da moral. Trad. José
Oscar de Almeida Marques. São Paulo: Ed.: UNESP, 2004.
FIGUEREDO,
Vinícius de. Kant & a crítica da razão pura. – Rio de Janeiro:
Ed.: ZAHAR, 2005.
REALE, Giovanni;
ANTISERI, Dario. História da Filosofia: de Spinoza a Kant.
Trad. Ivo Storniolo. Ed.: Paulus, 2005.
MACHADO,
Roberto. Deleuze: A arte e a filosofia. Ed.: ZAHAR, 2010.
NEWTON,
Isaac. Princípios matemáticos da filosofia natural. Ed.: Fundação
Calouste Gulbenkian, 2010.
CAYGILL,
Howard. Dicionário Kant/ Howard Caygill. Trad: Álvaro Cabral; Rio
de Janeiro; Ed.: ZAHAR, 2000.
LALANDE,
André. Vocabulário Técnico e Crítico da Filosofia. Trad. Fátima Sá
Corrêa et alli. São Paulo: Ed.: Martins Fontes, 1999.